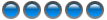Uma crise ideológica está por trás da atual política fiscal e financeira
A maneira mais clara de analisar algum sistema financeiro é fazer a pergunta do “de quem e para quem“. Isso porque sistemas financeiros são basicamente um conjunto de dívidas e credores. Na atual economia neorrentista, os 99% (trabalhadores, consumidores) devem ao 1% (possuidores de títulos, acionistas, grandes proprietários). O objetivo é monopolizar o privilégio de criação de dinheiro que permite extrair juros e outras taxas por suprir a economia com o crédito necessário.
Michael Hudson
Terra, recursos naturais, monopólios, portos e estradas foram mantidos em domínio público por milhares de anos, desde a Antiguidade. Em tempos mais recentes, rodovias, linhas de metrô, companhias aéreas, de gás e utilidades elétricas também eram patrimônio público. A ideia era prover serviços básicos a preços subsidiados, não os deixando serem privatizados e, assim, não oferecendo oportunidades para extração de renda. A Era Progressista coroou essa transição para uma economia mais equitativa por decretar impostos progressivos sobre o rendimento e a riqueza.
As economias liberavam-se dos privilégios que o feudalismo e o colonialismo garantia a seus favorecidos. O objetivo de acabar com esses privilégios era o de diminuir o custo de vida e dos negócios. Esperava-se que isso tornaria economias progressistas mais competitivas, obrigando outros países a seguirem o mesmo caminho ou tornarem-se obsoletos. O que era considerado socialismo de uma maneira ou outra parecia à mão – crescimento do setor público como parte fundamental da evolução tecnológica e da prosperidade.
Mas os latifundiários e os donos do setor financeiro foram contra, tentando expurgar da economia clássica sua conclusão política central. Eles defendiam a doutrina do ‘não existe esse negócio de almoço grátis’ como base fiscal para economias mais eficientes e justas. Legitimidade acadêmica eles tinham: os economistas novo-clássicos adotavam as doutrinas de Milton Friedman na Universidade de Chicago (que Upton Sinclair denominou Universidade de Standard Oil).
O problema político que se apresentava aos rentistas – os “ricos ociosos”, desviadores dos ganhos econômicos para si mesmos - era o seguinte: como convencer eleitores a concordarem que o setor produtivo e os consumidores devem ser taxados, não os ganhos financeiros do 1% mais rico? Por quanto tempo eles seriam capazes de manter as pessoas sem entender que juros isentos de impostos fazem afundar ainda mais em dívidas o orçamento do governo? Para tornar livre de impostos a riqueza financeira e os ganhos sobre os preços dos ativos, os acadêmicos patrocinados pelos lobistas do setor financeiro sequestraram a teoria monetária, a política fiscal e a teoria econômica em geral. Ainda, eles diziam que o governo não deveria regular Wall Street e seus clientes corporativos. Em vez de criticar a busca de renda como em séculos passados, eles retratavam o governo como um Leviatã opressor por proteger mercados de monopólios, companhias farmacêuticas indecorosas, companhias de seguro de saúde e finanças predatórias.
Essa ideia de que um “mercado livre” é aquele livre para que Wall Street aja sem regulação só pode ser popularizada por censurar a história do pensamento econômico. Não funcionaria que as pessoas lessem o que os livros de Adam Smith realmente ensinam sobre renda, impostos e a necessidade de regulação ou propriedade pública. A economia acadêmica tornou-se um exercício orwelliano de duplipensar, desenhado para convencer a população de que os 99% de baixo deveriam pagar impostos no lugar do 1% que obteve mais juros, dividendos e ganhos de capital. Por negar a existência do almoço livre, e por confundir a relação entre dinheiro e impostos, eles têm transformado departamentos de economia num grande lobby em favor do 1%.
Lobistas do 1% retratam a questão fiscal em termos de “como podemos fazer com que os 99% paguem por seus próprios programas sociais?” O aposto óbvio é, “de forma com que o 1% não precise pagar”. É assim que o sistema de Segurança Social pode ser “financiado” e “subfinanciado”. A taxa mais regressiva no orçamento da Segurança Social e do Medicare é o de 15,3% dos salários acima de $105,000. Além disso, os ricos não precisam contribuir. Essa taxa sobre a lista de pagamentos excede o imposto de renda pago por muitas famílias de trabalhadores manuais. Supõe-se que não taxar o pessoal dos almoços grátis tornará economias mais competitivas, afastando-as de qualquer depressão. A realidade é o oposto: ao invés de taxar as grandes riquezas, o peso dos impostos aumenta o custo de vida e dos negócios. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a economia norte-americana hoje sofre um processo de desindustrialização.
A questão principal é que o 1% faz uma vez que sua receita esteja “libertada” dos impostos. A resposta é que eles, emprestando-a, endividam o 99%. Isso polariza a economia entre credores e endividados. Durante a última geração, o 1% mais rico reescreveu as leis fiscais de maneira tal que agora recebe dois terços de toda riqueza (juros, dividendos, rendas e ganhos de capital), e 93% de todo rendimento desde o resgate a Wall Street em 2008.
Eles usaram esse dinheiro para financiar campanhas eleitorais de políticos empenhados em transferir impostos para os 99%. Também, compraram os meios de comunicação que dão forma ao entendimento do povo sobre o que está acontecendo. E como descreveu Thornstein Veblen há quase um século, empresários tornam-se presidentes de muitas universidades e direcionam as grades curriculares para uma formação “business friendly”.
A maneira mais clara de analisar algum sistema financeiro é fazer a pergunta do “de quem e para quem“. Isso porque sistemas financeiros são basicamente um conjunto de dívidas e credores. Na atual economia neorrentista, os 99% (trabalhadores, consumidores) devem ao 1% (possuidores de títulos, acionistas, grandes proprietários). Corporações e governos também estão endividados com esse 1% da população. O grau de polarização financeira aumenta bruscamente conforme o 1% endivida o 99% – junto com a indústria e os governos – a tal ponto que todo o excedente econômico é um serviço de dívida. O objetivo é monopolizar a economia, sobretudo o privilégio de criação de dinheiro que permite extrair juros e outras taxas por suprir a economia com o crédito necessário.
O 1% de cima quase obteve sucesso em desviar o excedente todo para si mesmo, desde setembro de 2008 eles obtiveram 93% do crescimento da renda norte-americana. O controle sobre o processo político permitiu que eles usassem cada nova crise financeira para fortalecer a própria posição, forçando companhias e governos locais a entregarem propriedades a credores e investidores. Após monopolizar o excedente econômico, eles agora procuram transferir a si mesmos a infraestrutura econômica, terras, recursos naturais e qualquer outro ativo sobre o qual se possa cobrar qualquer tipo de pedágio.
A situação é análoga àquela da Europa medieval durante as invasões nórdicas. A força supranacional da Roma dos tempos feudais agora situa-se em Washington, com o cristianismo substituído pelo Consenso de Washington do FMI, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio e instituições satélite como o Banco Central Europeu. E no novo campo de batalha financeiro, subscritores de Wall Street usaram a crise como oportunidade para pressionar por privatização. Em Chicago, a forte máquina política dos Democratas vendeu espaços de estacionamento nas calçadas e tentou privatizar vias públicas. O prefeito, Rahm Emanuel, usou a privatização de aeroportos para dificultar a sindicalização de trabalhadores. É o estilo Margaret Thatcher. A guerra de classes está de volta, e táticas financeiras agora desempenham um papel fundamental.
Essa monopolização da propriedade é o que as conquistas militares europeias na Idade Média e no período de colonização pretendiam alcançar. Mas, enquanto isso foi alcançado originalmente pela conquista militar da terra, o 1% o faz por financializar a economia (apesar de que o braço militar não está ausente da batalha).
O atual dilema financeiro
A dívida tornou-se tão grande que nem todo mundo pode ser pago. O aumento da taxa de inadimplência recoloca a velha questão do “quem/para quem”. A resposta é que quase sempre o peixe grande come o pequeno. Bancos grandes (demais para quebrar) estão comendo bancos pequenos enquanto o 1% tenta tomar a maior fatia do bolo para si, anulando o que deve ao 99%. O plano deles é o de reduzir as poupanças de Segurança Social e do Medicare a “atribuições”, como se fosse uma matéria de opção fiscal não pagar contribuintes de baixo rendimento enquanto os rentistas do topo batizam a si mesmos de "criadores de emprego"
O lobby bancário prefere que a economia se mantenha fazendo empréstimos para fugir da crise e afundando-se num buraco financeiro que traz ainda mais risco de incumprimento à propriedades privadas e públicas. A ideia é que o governo “estabilize” o sistema financeiro por resgatar os bancos – isto é, fazer pelos bancos o que eles não querem que seja feito pelo Medicare e pela Segurança Social, por estados e localidades que não recebem mais sua partilha nas receitas, por proprietários sofrendo com taxas de juros. O sonho é que a bolha financeira de Greenspan pode ser recuperada, e todos seriam ricos de novo, se dívidas forem alavancadas para subir preços do setor imobiliário, das ações e dos títulos e criar novos ganhos de capital.
Só com a realização desse sonho que os aposentados poderão ser pagos pelos fundos de pensão. Os preços do setor imobiliário não subirão novamente até que especuladores façam como fizeram antes de 2008. Se empréstimos estudantis não forem anulados, os graduados enfrentarão uma vida inteira de escravidão por dívida. Afinal, assim foi estabelecida, em grande medida, a América colonial – removendo gradualmente o preço da sua liberdade, só para ser mergulhada no caldeirão de vastas especulações imobiliárias e de fortunas roubadas sobre as quais foi fundada, senão a República, as maiores fortunas americanas. Imaginava-se que tal servidão pertencia apenas a uma era remota, não ao futuro do Ocidente. Mas agora podemos olhar para trás, para aquela era, a fim de ter um instantâneo do nosso futuro.
O plano financeiro é que o governo forneça crédito praticamente livre aos bancos, para que eles consigam emprestar o bastante para pagar as dívidas em que incidiram antes de 2008.
Esse não é um programa que visa aumentar a demanda ao setor produtivo. Não é o tipo de fluxo circular que economistas descrevem como essência do capitalismo industrial. É exploração financeira de uma magnitude que não vista desde a Idade Média.
Imaginar que uma economia pode se assentar sobre esse tipo de política desestabilizará ainda mais a economia e não aliviará a atual deflação de dívida. Mas, uma vez que se salve a economia, os bancos não poderão ser. E a administração Obama escolheu salvar os bancos, não a economia. A primeira diretiva do Fed é a de manter baixos os juros. Empréstimos ressuscitam e inflam-se os preços dos ativos dos empréstimos bancários que constituem as próprias reservas bancárias. É o confuso sonho de uma nova Economia Bolha – ou, mais precisamente, de uma nova Grande Dádiva.
O dilema é o seguinte: se o Fed mantiver baixas as taxas de juros, como os planos de previdência locais, estatais e privados conseguirão os retornos necessários (8% a mais) para pagarem suas aposentadorias? Eles deverão participar do Capitalismo de Casino com seus fundos de cobertura (hedge funds)?
Em contrapartida, se subissem as taxas de juros, seria reduzida a capitalização múltipla à qual os bancos emprestam contra os atuais rendimentos e lucros rentistas. Maiores taxas de juros diminuirão preços de setor imobiliário, ações e títulos, afundando ainda mais os bancos (e planos de previdência) em patrimônio líquido negativo.
Alguém tem que ceder. De qualquer forma, o sistema financeiro não pode continuar no mesmo caminho. Só anulações de dívidas tornarão mercados “livres” para retomar gastos em bens e serviços. E só uma transferência de impostos para finanças, monopólios e propriedades produtoras de renda e pedágios pode reorientar empréstimos para a produção e os empregos. A menos que isso seja feito, não há como a economia norte-americana tornar-se competitiva em mercados internacionais, exceto por equipamentos militares e direitos de propriedade intelectual para artefatos culturais escapistas.
A solução para a Segurança Social, o Medicare e o Medicaid é a desfinancialização. Tratá-los como são tratados programas governamentais de gastos militares, reconstrução de orlas e subsídios bancários, e pagar por seus custos com receita tributária e criação de dinheiro, com os bancos centrais fazendo aquilo para que foram fundados.
Políticos são coibidos de fazê-lo principalmente porque o setor financeiro patrocina uma visão que ignora que as dívidas, o dinheiro, a inflação dos ativos e da alavancagem de dívidas são características definidoras da crise financeira atual. Políticas governamentais foram capturadas para tentar salvar – ou ao menos subsidiar – um sistema financeiro que não pode ser salvo senão temporariamente. O sistema de suporte à vida é mantido a custo de afundar a economia enquanto gastos médicos reais para o verdadeiro suporte à vida está sendo negado a grande parte da população.
A economia está morrendo de uma doença respiratória financeira, ou do que os fisiocratas chamariam de desordem circulatória. Ao invés de liberarem a economia de dívidas, receitas estão sendo desviadas para pagar dívidas hipotecárias e de cartões de crédito. Estudantes desempregados carregam uma divida de um trilhão de dólares, sendo que a há muito honrada válvula de resgate da bancarrota não serve a eles. Muitos graduados precisam viver com seus pais, as taxas de casamento e formação de famílias (e, pois, de venda de imóveis) declinam. A economia está morrendo. É isso que faz o neoliberalismo.
Agora que a acumulação da dívida desenvolveu-se, o setor bancário deposita suas esperanças em jogos de azar via capitalismo de fundo de cobertura. Esse Capitalismo de Cassino é o estágio do capitalismo subsequente ao Capitalismo de Fundo de Previdência – e precede o estágio insolvente do Capitalismo de Austeridade e Confisco de Propriedade.
A questão agora é se o estágio final será o do neofeudalismo. A austeridade aprofunda déficits orçamentários, não os cura. Diferentemente de séculos passados, não se incorre a esses déficits para bancar guerras, mas para pagar por um sistema financeiro predador da economia “real”, isto é, da produção e do consumo. O colapso desse sistema causou o déficit atual e, em vez de reconhecer isso, a administração Obama tenta fazer com que os trabalhadores paguem por ele. Empurrar os assalariados em direção ao “abismo fiscal” fazendo-os pagar pelo resgate financeiro de Wall Street só pode encolher ainda mais o mercado.
Aquilo que banqueiros tecnocraticamente nomeiam de “desalavancagem” significa desviar parte ainda maior da renda para pagar o setor financeiro. Isso e a retomada do crescimento econômico e do nível de emprego são antíteses. A lição que se tira da recente experiência europeia é que, apesar da austeridade, a dívida cresceu de 381% do PIB em 2007 para 417% em 2012.
Mas mesmo com o encolhimento da economia, o setor financeiro enriquece transformando títulos de dívidas - o que economistas do século XIX chamavam de “capital fictício” e que depois passou a ser chamado de capital financeiro – em captura de propriedades. Isso faz com que uma irreal sobrecarga de dívida - irreal porque não há como pagá-la sob as relações de propriedade e distribuição de renda existentes - num pesadelo vivo. É isso que acontece na Europa e é isso que quer a administração de Obama com Tim Geithner, Ben Bernanke, Erik Holder... Eles fariam os Estados Unidos parecerem-se com a Europa, ou seja, desemprego crescente e mercados em queda, além das consequências sociais e políticas da guerra contra o trabalho, a indústria e o governo. A rota alternativa à da servidão – governos fortes o bastante para protegerem a população de finanças predatórias – revela ser um desvio daquela que leva à escravidão por dívida e ao neofeudalismo.
Nós estamos, pois, assistindo ao fim de um mito, ou pelo menos ao fim de uma retórica orwelliana acerca do que é o livre-mercado. Ele não é livre se deve pagar extratores de renda ao invés de produtores para cobrir os custos reais de produção. O mercado financeiro não é livre se não forem punidos aqueles que compõem hipotecas lixo e pagam agências de classificação para venderem “opiniões” de que finanças predatórias são criação saudável de riqueza. O livre-mercado precisa ser regulamentado contra a fraude e a busca de renda.
O outro mito é que seria inflacionário para bancos centrais monetizar despesa pública. O que aumenta preços é a instalação de juros, serviço de dívida, renda económica e encargos financeiros no custo de vida e do fazer negócios. A alavancagem com dívida do preço da habitação, educação e cuidados de saúde para fazer com que assalariados paguem mais de dois terços do seu rendimento para o setor financeiro, de seguros e de bens imóveis (conhecido como setor FIRE) e outros impostos que caem sobre o trabalho são responsáveis pela desindustrialização da economia e por torná-la não competitiva.
A criação de moeda pelo banco central não é inflacionária se financiar nova produção e emprego. Mas não é isso o que acontece hoje. A política monetária foi sequestrada para inflacionar preços de ativos, ou pelo menos para deter o seu declínio, ou simplesmente para entregar aos bancos para que eles possam fazer suas apostas. "A economia" está cada vez menos na esfera da produção, consumo e emprego; ela está cada vez mais na esfera da criação de crédito para comprar ativos, transformando lucros e rendimento em pagamentos de juros até que todo o excedente econômico e conjunto de propriedades estejam comprometidos com o serviço de divida.
Celebrar isto como uma "sociedade pós-industrial", um novo universo no qual todos podem ficar ricos com alavancagem de dívida, é um engano. A estrada que levou a esta armadilha foi coberta com bilhões de dólares em iscas para que o lixo subsidiado e apregoado como teoria econômica, estimulando eleitores a votarem contra os seus interesses. A narrativa financeira pós clássica, favorável aos rentistas, é falsa – e de modo intencional. O objetivo de seu modelo econômico é fazer com que as pessoas vejam o mundo e atuem (ou invistam o seu dinheiro) de um modo que os seus apoiantes possam ganhar o dinheiro daqueles que vão atrás da ilusão subsidiada. A tarefa da nova economia permanece sendo a de reviver a distinção clássica entre riqueza e encargos, rendimento ganho e não ganho, lucro e rendimento rentista – e, em última análise, entre capitalismo e feudalismo.
* Michael Hudson é presidente do Instituto de Estudos de Tendências Econômicas, um analista financeiro de Wall Street e professor de economia da Universidade de Missouri. Mantém um site com escritos sobre finanças e o setor imobiliário.
http://michael-hudson.com/
Tradução de André Cristi